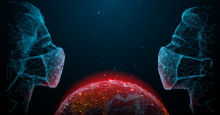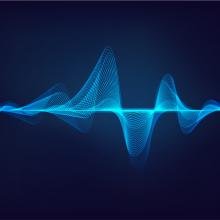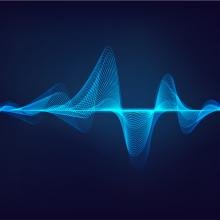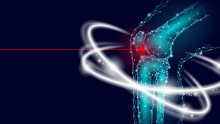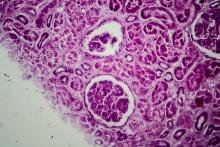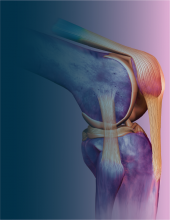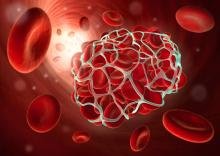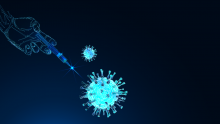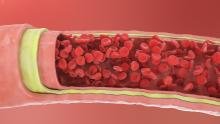A tomada de decisão compartilhada na América Latina
Por: Alberto Palacios MD
Chefe do Departamento de Imunologia e Reumatologia do Hospital de los Angeles Pedregal em CDMX
Cite as: Palacios Boix, A., 2022. La toma de decisiones compartidas en América Latina | Global Rheumatology [Internet]. Available from: https://doi.org/10.46856/grp.22.e139
Naqueles anos (meados da década de 1980) em uma instituição pública, juntamente com o Diretor de Ensino, decidimos escrever um questionário para que os pacientes - a maioria com recursos limitados - concordassem em participar mais ativamente do seu processo de diagnóstico e tratamento. O questionário também incluiu uma crítica às intervenções médicas, a atitude do médico assistente e os cuidados paraclínicos recebidos ao longo da sua internação.
Em grande parte, aqueles doentes crónicos - cirróticos, com leucemias, insuficiência renal ou cardiopneumopatas na sua maioria - olhavam-nos com uma mistura de desconfiança e estupor. Ninguém jamais havia percebido que poderiam tomar decisões ou liberar aos seus médicos da autoridade intrínseca que eles atribuíam ao manejo das suas doenças.
Quase todos chegaram ao hospital gravemente acometidos, desconhecendo a fisiopatologia que carregavam e motivados pelos seus familiares a lidar com algum sintoma preocupante: edema, tegumento pálido, sangramento no trato digestivo, anemia ou febre.
Lembro-me particularmente de um deles, Don Artemio, que sofria de fortes dores ósseas devido ao mieloma múltiplo, diagnóstico que escapava a qualquer explicação possível para o seu precário nível sociocultural. Tentamos avisá-lo que consistia na presença de células “loucas” que se depositavam na medula dos seus ossos e, ao crescerem tão rápida e incontrolavelmente, “alargavam” os ossos e os tornavam mais frágeis. Ele então concordou em trocar a sua cama de hospital por uma cama Stryker, pesada e inimaginável para um camponês como ele.
Certa noite, avisados de que se movia constantemente no seu leito helicoidal, o que havia causado três fraturas patológicas, abordamos ele para reivindicá-lo. O diálogo seguiu os seguintes caminhos:
-Artemio, não pode continuar, o seu cálcio está no teto e os seus ossos estão piorando a cada dia-, o residente de plantão o repreendeu.
"É que você não coopera, senhor", acrescentou outro.
-Sim, doutores-, respondeu o paciente, em atitude submissa -podem me dizer quantos pesos eu coloco na mão, eu sempre coopero.
Essa troca, por mais bem-humorada que pareça, reflete a falta de comunicação supina que costumamos ter com os pacientes. De uma perspectiva paternalista, pedir aos pacientes que “cooperem” com os seus cuidados é colocá-los em uma posição um tanto errada e incomum. Tradicionalmente, os pacientes adotam uma atitude passiva exigindo atenção em troca de um guia, uma diretriz e uma autoridade moral inquestionável dos seus médicos. Então, supor que de um momento para o outro, por meio de uma iniciativa politicamente correta, vamos devolver a eles a sua autonomia e poderemos empoderá-los, é um tanto ingênuo.
Nos países em desenvolvimento, onde a participação cidadã nas decisões democráticas, institucionais ou judiciais é escassa e sujeita a diversos obstáculos, sendo os mais evidentes de natureza educacional, tentar fazer com que os pacientes assumam o seu destino diante da incerteza de que um quadro agudo ou crônico a doença não é uma tarefa tão simples quanto parece por simples decreto.
Nos Estados Unidos, onde as diretrizes sociais e a prática da medicina defensiva – sufocada por restrições e ameaças legais – são a norma, é lógico que há quatro décadas se busca o consenso dos pacientes no âmbito da assistência à saúde (1). Isso reduziu os custos, permitiu que as demandas judiciais fossem limitadas e, sobretudo, facilitou o atendimento clínico ao favorecer a educação permanente e o uso mais racional dos recursos diagnósticos e terapêuticos. Visto desta forma, o exemplo é louvável e merece ser seguido à risca.
Mas a sua execução em sociedades menos plurais e mais verticais, como a latino-americana ou outros países em desenvolvimento, onde o autoritarismo continua prevalecendo em quase todas as esferas, não é tarefa fácil. Aqui os pacientes obedecem à autoridade moral do médico sem questionar, mesmo que possam ter reservas sobre o treinamento ou as melhores intenções do médico que visitam. Estou convencido de que as séries de televisão americanas foram mais instrumentais para provocar tal ceticismo do que a prática real da medicina nas nossas latitudes.
A recente pandemia de covid-19, cuja quinta onda vivemos, trouxe consigo uma maior participação de leigos em determinadas medidas preventivas e de saúde pública. Nunca na história os humanos favoreceram imunizações ou medições digitais de saturação de oxigênio, pulso ou pressão arterial em casa como tem feito desde a primavera de 2020. O conhecimento adquirido ao vapor das redes sociais, velho e fragmentado, foi refinado e pacientes com um certo nível cultural aprenderam a procurar sintomas e associá-los antes de ir à sua consulta, tanto para fornecer elementos de julgamento quanto para testar a relevância científica dos seus médicos.
No entanto, as decisões compartilhadas na América Latina não vão a galope, mas a trote. Em grande medida, os próprios médicos relutam em abandonar a sua posição autoritária e paternalista porque isso traz prestígio, benefícios sociais e resulta em vantagens econômicas sobre rivais menos assertivos.
Usei esse paradigma com uma alegoria em uma publicação de 2018 baseada na troca assimétrica fornecida por Fiódor Dostoiévski no seu capítulo sobre “O Grande Inquisidor” (2, 3). Nesse quadro, ele confronta uma estudante de medicina que se incomoda com a ocultação de um procedimento malsucedido em uma paciente com poliarterite nodosa e que a leva a se submeter a um problema do Chefe de Medicina, que a repreende pela sua inocência e por passar despercebida os três poderes da Medicina, a saber: milagre, magia, autoridade.
Com esta informações em mãos, podemos sugerir que as decisões compartilhadas na Medicina são o ideal a que todos aspiramos, médicos e pacientes. A primeira, porque reduzirá uma responsabilidade unilateral quanto ao acúmulo de elementos diagnósticos e opções terapêuticas que possam surgir diante de casos complicados ou em que esteja em jogo a integridade de um paciente. Estes, porque ao se encarregarem da sua saúde -com as óbvias limitações do seu conhecimento ou o peso da subjetividade- poderão, sem dúvida, oferecer melhores cenários de discernimento e ao mesmo tempo exigir a colaboração e orientação do médico em situações de conflito.
O resultado ideal deve ser uma perspectiva mais ampla, duplicada e ampliada do processo diagnóstico e terapêutico, com resultados mais bem-sucedidos e menos onerosos para o paciente ou para os prestadores de serviços de saúde.
O ensaio natural ocorreu no âmbito da medicina privada, já que o custo de atenção e o nível socioeconômico de quem poder adquiri-la criam um cenário no qual as decisões não podem (nem devem) ser arbitrarias ou sem levar em conta aos doentes ou familiares. Contarei um exemplo para ilustrá-lo.
O Sr. Lucio Stevens, um empresário cujos parentes tratei de várias doenças agudas e crônicas, veio até mim queixando-se de fadiga e queixas digestivas vagas. Os seus exames laboratoriais (que trouxe consigo antes da visita, tendo ele próprio decidido qual seria a rotina mais conveniente) não mostraram dados de alarme, exceto hiperglicemia discreta e albumina sérica em números marginais.
É um homem austero, magro, com uma cultura prática que aplica no seu dia a dia e que, aos 63 anos, gaba-se de fazer quatro horas de exercício aeróbico por semana, não fumar e não consumir mais de três copos de vinho duas vezes por mês. Além dos exames recentes, trouxe consigo uma pasta que acumulou dos seus exames médicos nos últimos cinco anos, "caso queira revisá-los". Apesar de ser contemporâneo e conhecer à sua família há mais de uma década, ele me trata com deferência e evita usar o seu primeiro nome.
O exame físico não acrescenta nenhum dado conspícuo, mas dada a sua insistência de que predomina o desconforto intestinal e que perdeu peso e apetite, decido -com a sua expressa aprovação- fazer uma tomografia de abdome com contraste. Alguns dias depois, ele veio ao meu consultório com as placas e um USB que mostra um tumor na cauda do pâncreas, heterogêneo e deslocando o ducto de Wirsung. A suspeita de uma neoplasia maligna é a primeira coisa que me vem à mente e debato por alguns minutos em que termos e em que tom devo apresentá-la a Don Lucio para que ele tome medidas oportunas e não seja sobrecarregado por um diagnóstico sinistro.
A troca de ideias é assim:
-O que vejo aqui é uma massa, um tumor no pâncreas, mas não posso dizer com certeza se é maligno ou benigno. O que você acha, Lúcio?
"Sobre o quê, doutor?" Você recomenda que eu faça uma cirurgia?
-O que posso sugerir é visitar um colega meu que é especialista em problemas pancreáticos, que decidirá com você se deve ser biopsiado ou removido. A verdade é que é um achado fortuito, Lúcio, não tenho elementos para pensar em algo incurável.
-Isso me tranquiliza, doutor, mas quero lhe perguntar: o que você faria no meu lugar se fosse câncer?
-Eu me trataria imediatamente, Lúcio. Hoje, tanto a cirurgia excisional quanto os tratamentos, quimioterapia ou imunoterapia, oferecem uma boa porcentagem de remissão. Mas, insisto: não há dados conclusivos de que seja um tumor maligno. Visite ao Dr. Wong, garanto que ele é um profissional muito competente e altamente ético. Claro, sinta-se à vontade para consultar quem você preferir.
-Obrigado Dr. Vou mantê-lo atualizado.
Este exemplo ilustra uma situação clínica em que a decisão terapêutica, embora pautada por um encaminhamento direto do médico, deixa no paciente o poder de seguir o seu conselho ou optar por outro destino e outras opiniões.
Quero enfatizar que ele é um paciente informado, competente, com recursos intelectuais e econômicos para buscar alternativas que não estão ao alcance da maior parte da nossa população na América Latina, onde a previdência social é limitada e limitante.
Tal diálogo é raro em hospitais públicos ou em regiões onde a atenção primária é pouco qualificada. No entanto, acredito com profunda convicção que instrumentos e cenários de abordagem diagnóstica e terapêutica podem ser implementados onde as decisões deixem de ser unilaterais e arbitrárias, onde os pacientes - por mais pouca cultura que tragam - sejam sempre dignos de decidir e optar por tratamentos e intervenções que melhor se adequar à magnitude do seu problema clínico.
Os médicos, a meu ver, devem ser antes de tudo educadores e, portanto, zelar para que nossos incentivos profissionais, econômicos ou de prestígio, por mais válidos ou justificáveis que sejam, prevaleçam sobre o benefício concreto e imediato dos nossos pacientes. A ética no exercício da Medicina mede-se pelos resultados dos nossos ensaios e intervenções clínicas, mas também pela proporção com que fazemos com que os nossos pacientes participem no cuidado do seu corpo e do seu destino.
Referências
1. Frosch, D.L. & Kaplan R.M. Shared decision making in Clinical Medicine: past research and future directions. Am J Prev Med 1999; 17 (4): 285 - 294.
2. Palacios Boix, Alberto. Espectro íntimos. Apuntes en torno al miedo. Siglo XXI editores, México, 2018. Págs. 13 - 23.
3. Dostoyevski Fiódor. Los hermanos Karamazov. Parte II. Libro V. Capítulo V: “El gran inquisidor”. Aguilar, Madrid, 1953. Págs. 209 - 223.