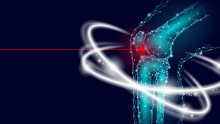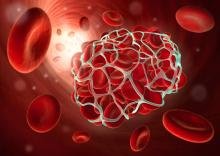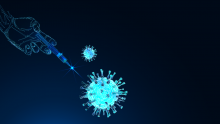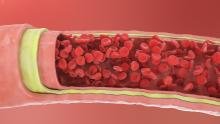Gostaria de começar com uma saudação especial a todos os participantes do 22º Congresso Pan-Americano de Reumatologia - PANLAR 2020, como também a todos os membros da Liga Pan-Americana de Associações de Reumatologia. É um grande privilégio para mim poder compartilhar com vocês algumas reflexões gerais nesta abertura do Congresso. Enfatizo “generais” porque a minha visão não é a de um especialista, mas de alguém que vem de um mundo diferente, estrangeiro, com tudo o que isso implica.
Novamente, eu não sou um médico. Muito menos especialista. Sou um economista que dedicou boa parte da sua vida à pesquisa social, estudando problemas de desenvolvimento, armadilhas da pobreza, paradoxos da mobilidade social e esforços (sempre incompletos) para criar sociedades um pouco mais justas e um pouco mais decente. Estou aqui pelo convite do Dr. Carlo Vinicio Caballero, com quem tenho, digamos assim, uma amizade virtual e a suspeita de certas afinidades essenciais, uma forma semelhante de entender o mundo.
O meu contato com a medicina (ou saúde em termos mais gerais) tem sido diverso. Eu fui pesquisador, já disse, durante alguns anos na área de saúde. Uma espécie de epidemiologista disfarçado (não sei se ser epidemiologista é algo que se pode confessar tranquilamente hoje em dia).
Fui ministro da Saúde por seis anos, muito tempo, uma grande loucura, diziam os meus amigos. E eu também fui um paciente oncolôgico enquanto era ministro. A vida tem as suas ironias, algumas delas trágicas.
Vivi boa parte dos meus últimos anos rodeado de médicos, um desafio existencial para um economista. Não só respeito e admiro os médicos, como os amo, com um carinho que vem da gratidão e do conhecimento de primeira mão do seu esforço, angústia e dedicação.
Do carinho, com base nas minhas experiências, na minha experiência como pesquisador, paciente e funcionário público, gostaria de compartilhar com vocês algumas ideias soltas sobre a medicina nestes tempos desafiadores, os tempos da pandemia, da ruptura tecnológica, das mudanças climáticas e do “desconforto supremo".
O meu primeiro ponto é um apelo ao ceticismo, às dúvidas sobre as novas tecnologias e as novas drogas que geralmente prometem mais do que dão. É também um apelo a aceitar os limites da medicina e a complexidade biológica que quase nos define.
Lembro-me de que costumava passar as minhas tardes intermináveis como pacientes, lendo notícias sobre medicina. Recebia notificações permanentes de algumas páginas de notícias médicas. A notícia nem sempre foi reconfortante para um paciente à beira do abismo. Elas mostraram a grande complexidade da nossa biologia. Diferentes respostas a tratamentos com base em aspectos desconhecidos do genoma ou do microbioma. Elas também mostraram os efeitos nocivos de alguns medicamentos antes considerados seguros, as consequências adversas do tratamento excessivo e as mudanças de opinião sobre a eficácia de algum procedimento ou medicamento antes considerado milagroso.
O escritor Aldous Huxley dizia que as mudanças na moda da medicina são tão grotescas quanto as mudanças nos chapéus femininos.
Apesar de todos os avanços tecnológicos, do conhecimento exaustivo do seu código genético, das centenas de milhares de artigos publicados, a resposta à pandemia do coronavírus não foi, nos seus primeiros meses, muito diferente à de 1918: quarentenas generalizadas, distanciamento físico e cloroquina, os mesmos remédios elementares de cem anos atrás.
A complexidade biológica e ecológica, a forma intrincada e misteriosa em que todas as coisas vivas estão conectadas revelam, não apenas os limites do conhecimento científico, mas também a irracionalidade da arrogância humana.
O pesquisador americano John Ioannidis, que mais do que ninguém trouxe ao presente as vadios da ciência médica, mostrou em um dos seus artigos seminais que das 101 grandes descobertas anunciadas pelas principais revistas médicas entre 1979 e 1983, apenas 27 delas foram avaliadas exaustivamente três décadas depois, destes, cinco foram aprovadas pelos órgãos de saúde e apenas um apresentou alguma utilidade. De um modo geral, o mesmo tem acontecido, por exemplo, com a genômica: os resultados finais não justificaram o entusiasmo inicial. A ciência médica de hoje promete mais do que pode cumprir.
Pode-se fazer uma espécie de lista ou inventário que resuma o meu apelo ao ceticismo necessário. Gostaria de reduzi-lo a sete pontos:
1. A taxa de mortalidade da humanidade ainda é de 100%.
2. A velhice não é uma doença
3. Os poderes da medicina são limitados
4. Compreender a morbidade no fim da vida é uma ilusão
5. Menos muitas vezes é mais
6. A última moda tecnológica geralmente é apenas isso, um entusiasmo passageiro.
7. Tecnologias de custo zero, como a conversação, são obrigatórias.
O próprio Huxley dizia que, na língua inglesa, “holy (sagrado), healthy (saudável) e whole (integral) têm a mesma raiz. Um ensino linguístico, indireto se quiser, que vale a pena lembrar por vezes.
O meu segundo ponto é mais otimista, mais construtivo, como gostamos de dizer. Tem a ver com a importância da saúde pública. Há algumas semanas, durante a indução de alunos do primeiro semestre da Universidad de los Andes, perguntei a vários jovens os motivos que os levaram a escolher os seus programas de estudos. Um deles mencionou que teve que resolver um dilema muito difícil, um dilema peculiar: escolher entre a medicina e o direito. No final tinha escolhido direito, porque, segundo ele, poderia atingir mais pessoas, não apenas uma pessoa por vez, mas muitas simultaneamente.
Pois é, é exatamente isso que a saúde pública permite, multiplicar o alcance, mudar milhões de vidas simultaneamente, enfim, transformar a sociedade.
Vale lembrar que nos Estados Unidos, epicentro da tecnologia médica, um país que gasta quatro ou cinco vezes mais com saúde por habitante do que um país europeu normal, a expectativa de vida ao nascer caiu por três anos consecutivos. As mortes do desespero, como as chama o economista e ganhador do Nobel Angus Deaton. A propósito, recomendo o último livro do Deaton e a sua esposa Anne Case sobre o sistema de saúde da América: " As mortes do desespero" é o seu título assustador.
Esse fato paradoxal revela, entre outras coisas, a crescente ineficácia das tecnologias voltadas apenas para prolongar a vida de mais alguns, o abandono geral da saúde pública e as grandes fraturas sociais, as lacunas entre quem vai à universidade e foram capazes de encontrar o seu lugar no mundo e aqueles que não conseguiram se educar e foram deslocados das oportunidades e de qualquer forma possível de esperança.
O exemplo dos Estados Unidos nos ensina. Isso sugere que as políticas mais eficazes não são individuais, mas coletivas. A medicina desempenha um papel importante. Tecnologia também. Sem elas, eu não seria um sobrevivente do câncer. Mas negligenciar a saúde pública é mortal. Literalmente. A pandemia o tem demonstrado de forma trágica.
O coronavírus revelou, deve-se salientar, muitas das antigas e novas desigualdades no nossos países: a exclusão digital, os maus-tratos aos trabalhadores essenciais e as diferenças na prestação de serviços de saúde, para citar alguns casos.
Dirijo uma universidade e fico preocupado com as grandes lacunas educacionais. O economista Raj Chetty mostrou, no caso dos Estados Unidos, que os alunos dos níveis socioeconômicos mais elevados concluíram 90% ou mais dos seus deveres de matemática por meio de plataformas virtuais; em contraste, os alunos nos níveis mais baixos concluíram 40% ou menos.
Muitas dessas lacunas são irrecuperáveis, elas terão consequências irreversíveis no desempenho no trabalho e na vida em geral. Muitos educadores, com alguma impaciência, falam mesmo de uma geração perdida.
Na saúde, a desigualdade mais notória é a diferença na assistência médica entre o centro e a periferia: no centro, os recursos tecnológicos e humanos são várias ordens de magnitude acima do que na periferia. As análises ainda não foram aprofundadas, mas as evidências existentes (como já dissemos, não é o momento de conclusões definitivas) mostram que a densidade ou maior presença de serviços médicos de alta complexidade em uma cidade ou território não afetou sistematicamente a taxa de mortalidade. A região de Bérgamo na Itália e as cidades de Nova York ou Bruxelas têm os melhores hospitais do mundo, mas tiveram, em termos percentuais, muito mais mortes do que cidades ou regiões com os piores sistemas hospitalares.
O coronavírus reproduziu de maneira quase precisa (é um espelho revelador, sem dúvida) as diferenças nas taxas de mortalidade evitáveis por grupos socioeconômicos. A mortalidade tem sido muito maior nos níveis mais pobres do que nos níveis médias superiores
O sanitário inglês Michael Marmot documentou esse fato com precisão. No caso da Inglaterra, a probabilidade de morte pelo Covid-19 foi mais do dobro nos mais pobres do que nos mais privilegiados. Em Bogotá, as diferenças de internação são mais de cinco vezes.
Essa desigualdade tem mais a ver com as condições sociais e uma maior exposição ao vírus do que com o acesso aos serviços hospitalares. As desigualdades de vida refletem-se tragicamente nas maiores taxas de mortalidade. A morte não trata a todos da mesma forma, porque a vida não é a mesma para todos.
Em novembro de 2019, quando a pandemia não estava nos planos de ninguém, quando o mundo tinha outras preocupações, o jornal inglês Financial Times fez uma publicação ousada: "Agora é a hora de redefinir o capitalismo." Foi uma forma de chamar a atenção para as mudanças necessárias, sobre a necessidade de um sistema mais justo e sustentável. O coronavírus tornou essa necessidade ainda mais clara. As desigualdades em saúde, educação, riqueza e condições de vida são inaceitáveis, uma questão de vida ou morte.
Gostaria de terminar com uma reiteração, com um convite a tomar consciência sobre três pontos: primeiro, os limites da medicina moderna (a necessidade de um certo niilismo tecnológico); segundo, a importância da saúde pública (uma das grandes lições da pandemia) e, terceiro, a centralidade das desigualdades socioeconômicas, muitas delas exacerbadas pela pandemia; desigualdades que tiveram e continuarão a ter um impacto significativo na saúde.
Certa vez, em um de seus poemas posteriores, o Jorge Luis Borges pediu indulgência por tentar ensinar alguns a quem sabia muito mais do que ele. Termino com o mesmo chamado, pedindo-lhe um pouco de clemência por esta breve intervenção que é apenas uma forma de reiterar o óbvio. Com o tempo, você se tornará uma espécie de pregador do óbvio.
Desejo-lhes boa sorte no congresso. Reitero o meu carinho pelo seu trabalho todos os dias. Uma trabalho que ocorre, como bem sugeriu Huxley, no ambiente do humano, isto é, a dignidade, a esperança e a finitude.
Obrigado a todos.
Conferência proferida na cerimônia de abertura do 22º Congresso Pan-Americano de Reumatologia, que foi realizado por meios virtuais devido à pandemia COVID 19. 17 de setembro de 2020.